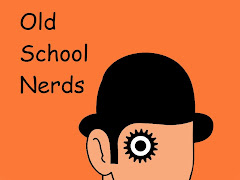Uma brilhante mudança de rumo dos Coen.
Uma brilhante mudança de rumo dos Coen.Especialistas em comédia, os Irmãos Coen estavam em uma fase morna em 2007. Os seus filmes anteriores eram Matadores de Velhinhas e Intolerable Cruelty, que não eram ruins mas se encaixavam mal na brilhante filmografia dos irmãos. Acostumados a fazer um filme por ano(ou a cada dois), eles sentiram o baque de Matadores e ficaram 3 anos sem dirigir-escrever. Então, surgiu o livro de Cormac McCarthy na mesa deles. O livro, de 2005, era um faroeste de suspense ambientado no Texas e que trabalhava com ideias de ambiente moldando homem, um típico filme de Werner Herzog. Os temas abordados por McCarthy eram agressivos e ajudavam na brilhante construção de personagens do livro. Ensaiava-se, portanto, um novo rumo na filmografia dos Coen, uma pequena saída das comédias de humor negro e uma volta aos policiais que os introduziram no mundo do cinema(Blood Simple e Miller's Crossing). Após algum tempo de divulgação, as primeiras críticas de 2007 apontavam o filme como forte candidato ao Oscar. E, logo depois, o filme foi agraciado com 4 Oscar, incluindo Melhor Diretor e Filme, ganhando do favorito e citado como novo clássico, Sangue Negro. E será que esse filme dos Coen tem algo a mais a ponto de ganhar o Oscar?
A trama, superficialmente vista como rasa, segue Llewelyn Moss(Josh Brolin), um caçador errante e despreocupado que está caçando cervos quando avista, lá no meio do deserto, um verdadeiro banho de sangue. Umas duas dezenas de homens mortos a tiros, possivelmente numa negociação de drogas que deu muito errado. Logo, lá no fundo, debaixo de uma árvore, ele vê um homem com uma valise. Dentro, dois milhões de dólares. Ali, um dilema moral se estabelecia. Porém, o bolso fala mais alto e, mesmo sabendo do eminente perigo, Llewelyn pega a valise. "Não pouparam nem o cachorro", diz o chefe Ed Michael Bell(Tommy Lee Jones), quando vê a cena do crime. No seu cavalo, ele está perto de se aposentar e conhece muito bem o código de ética do deserto texano, em 1980. Uma negociação deu errado, confirmado. Como Ed viu que era algo feito por profissionais, ele logo detecta a enrascada em que Llewelyn se meteu. E é aí que Anton Chigurh(Javier Bardem) entra. O profissional, o homem da valise, o contratado para encontrar ela e matar o ladrão. Pronto. Com uma brilhante construção de personagens e situações coesas e bem executadas, Onde os Fracos não tem Vez faz um panorama de sua trama. Logo, o duelo começará.
O roteiro dos Irmãos é talvez o seu melhor em construção de situações. A sua diferente abordagem, agora bem policial, foge á regra das black-comedys deles, mas ainda há alguns resquícios. Apesar do gênero, ainda há umas 3 ou 4 falas que remetem as piadas cohenianas, mas algo muito sutil e que depende de conhecimento prévio da dupla. Já nas situações, muitas são brilhantes por sua simplicidade. Os diálogos, por exemplo, são fantásticos e precisos, mas a simplicidade das cenas "mudas" é um dos destaques do filme. Pegue por exemplo a cena do hotel. Quase inteira sem diálogos, a cena tem um ótimo suspense inicial(pontuado pelo tic-tac do rastreador) e culmina num excelente tiroteio, filmado com arrojo e com planos-sequências grandes. Uma das melhores sequências do filme, sem dúvida. Mas, apesar da elegância no estilo do roteiro dos Coen, o que mais chama atenção em Onde os Fracos não é suas situações e sim seus personagens, construídos de forma invejável e usando o Texas oitentista como personagem.
Assim como alguns filmes de Werner Herzog, Onde os Fracos aposta no ambiente como coadjuvante principal da trama, moldando seus personagens. Tomando uma licença de resenha atemporal, diria que o Bad Lieutenant de 2009 de Herzog é um produto desse naipe também. Assim como a New Orleans caótica atormenta o tenente mal, o morto deserto texano aqui molda o mito de Anton e a humanidade de Llewelyn. No duelo dos dois, tudo é mostrado com clareza ao longo do filme: Llewelyn é mais pé no chão(como é visto na cena do cervo), um homem tentando fugir usando suas parcas habilidades para alcançar um objetivo impossível, de forma suicída. Ciente de suas limitações, Llewelyn foge, foge e foge. Anton é grande, austero, quase onipresente, uma lenda. Ele não é errante, atira para matar e só erra quando realmente quer errar. O ambiente pode mexer com os nervos de Llewelyn e Ed Michael e ainda pode moldá-los, o tornando mais vulneráveis ainda. Já Anton não. O calculista assassino psicopata não se deixa levar e, diferente de seu oponente, não deixar ser marcado pelo tenebroso Texas. E, num duelo em que até o mediador do confronto, Ed Michael, é afetado, o ambiente pode definir o desfecho.
Tecnicamente, o filme é bem apurado, uma marca dos Coen. Sua direção é competente ao extremo e premiada com muito louvor. Sendo no drama, sendo no suspense, a direção é fabulosa e arrojada. A edição dos Irmãos, escondidos dentro de Roderick Jaynes, é perfeita e faz seu trabalho com destreza, merecendo a indicação. A trilha de Carter Burwell é quase nula e o filme é até melhorado com isso. Aqui, os esquematismos que algumas músicas iriam impor seria ruim para o filme, calmo e calado na essência. Já a fotografia de Roger Deakins é linda e um de seus melhores trabalhos(talvez o melhor). Uma pena não ter ganho o Oscar pois é bonita demais e retrata bem tanto o Texas quanto os Anos Oitenta.
As atuações de Onde os Fracos não tem Vez são necessárias também, afinal, o ambiente pode ser decisivo, mas as peças do tabuleiro são os 3 homens. Josh Brolin faz seu papel bem, mostrando que Llewelyn é tudo aquilo que a imagem capturada pelos irmãos diz sobre ele. Um trabalho bem cumprido, mas ofuscado(propositalmente, vale citar) pelos outros dois atores. Tommy Lee Jones faz aqui o papel de linha entre Anton e Llewelyn. Sua situação como mediador é digna de um faroeste clássico e suas constatações após cada duelo do filme são precisas e não soam gratuitas(sendo até uma inteligente maneira de explicar o roteiro). A atuação de Jones só reforça isso. Com sua fala cansada e arrastada, suas rugas preocupadas e seus esbugalhados olhos impressionados demonstram o que realmente está sendo ali debatido: o duelo de Davi e Golias.
Mas, a atuação que extrapola tudo é a de Javier Bardem. O simpático e calmo ator espanhol se transforma no brutalmente psicopata Anton Chigurh. Seu complexo personagem exigia uma atuação a altura e foi o que ocorreu, com um merecidíssimo Oscar de Melhor Coadjuvante. Quando é necessário ser calmo, o ator consegue e quando é exigida a glorificação de Anton como mito, a atuação faz valer o ingresso por si só. E isso que é bem interessante em Onde os Fracos não tem Vez: suas atuações não são medidas pelas qualidades do ator(afinal, os três são perfeitos). Na verdade, o que é medido aqui é se ele conseguiu ou não expressar o que o roteiro pediu. Brilhante iniciativa dos Coen.
No veredito, o filme é simplesmente memorável. Um faroeste bem construído, emocionante e tenso, construído com uma mão profissional dos Coen. Aqui, seu cinema voltava a boa forma, ensaiando duas outras obras excelentes da dupla, Queime depois de Ler e Um Homem Sério. Agora, em 2010, lançará Bravura Indômita, remake do faroeste homônimo. Fica agora a espera pela nova aula de cinema dos Irmãos, em sua fase policial. Sim, uma nova pérola do cinema á vista. Um grande parabéns a essa icônica obra, que direcionou a carreira consagrada dos Coen a uma nova direção. Um ótima direção, por sinal.
***** 5 Estrelas