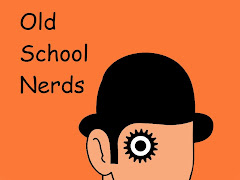Documentário vergonhoso não tem razão em existir.
Documentário vergonhoso não tem razão em existir.Celebridades que massageam o ego pra sobreviver não são novidade. Se Lady Gaga gosta de se promover criando ombros artificiais e realizando clipes com visual bizarro e música fraca, Justin Bieber costuma ser mais sutil: ele apenas clama pra que suas fãs o amem incondicionalmente ao cantar que as ama. A fórmula de sucesso do garoto não é um mistério, afinal as adolescentes desde sempre são apaixonadas por as celebridades mirins, desde os Jacksons 5 aos Backstreet Boys. Astros assim surgem pela necessidade dos showbiz em ter alguém que estoure nas vendads e enlouqueça as fãs. Não por acaso, Bieber surgiu no exemplo máximo da geração atual: o YouTube. E Bieber, conhecido por seu estilo mezzo rapper mezzo Ken(o da Barbie) e por dar em cima de mulheres adultas(?!?!), atinge aqui no tosquíssimo Never Say Never o ápice de seu egocentrismo.
Pode parecer uma comparação absurda, mas Justin Bieber encontra em James Cameron um bizarro paralelo cinematográfico. Não estou dizendo que o moleque do Canadá tem o um décimo do talento do oscarizado Cameron(definitivamente, não tem), mas é inegável que ambos tem uma excelente visão de mercado, realizando exatamente a tendência do momento, o que o público precisa. E se for pra criar uma história da vida de si mesmo, Bieber tem que criar um documentário que fale de redes sociais, do amor das fãs, de sua infância "sofrida"... E tem que ser em 3D. A desculpa do 3D é até interessante no contexto, afinal Bieber não pode ir a todos os lugares do mundo pra fazer show, mas criando um documentário em terceira dimensão, a imersão adquirida pode ser atribuída a uma iniciativa de dar o show aos lugares que o cantor não conheceu. Mas logo isso cai por terra, quando percebemos que aquilo é uma história sobre a vida do cantor. E só não dá pra dizer que o loiro é um desperdício musical completo porque, pelo menos, ele sabe tocar bateria muito bem.
Quando a projeção começa, uma surpresa: os 4 minutos iniciais são realmente bons. Começando com uma caixa de e-mails tendo vídeos que bombam no YouTube, o filme apresenta o terceiro vídeo, com um garoto pequeno cantando With You, de Chris Brown. Logo após, corta pros créditos iniciais, que são vibrantes(pela habilidade que é apresentado, não pela fraca música ao fundo). Um bom início, que apresenta de forma eficiente a carreira do menino e que joga a isca para o público: Como o garotinho da voz esganiçada chegou até o Madison Square Garden?
Os problemas, que daqui pra frente serão a alma do filme, começam logo após o fade out que acaba com os créditos. Dando voz ás fãs de Bieber, o documentário já começa a perder por ser tão cretino. O produto é sob medida pras fãs, sabemos disso, mas precisava jogar assim na cara? A hiper-exposição continua frenética a partir dali: as fãs voltam a falar a cada 15 minutos de projeção, apenas pra reforçar o óbvio sentimento que sentem por ele. Não é espantoso dizer que Never Say Never troca conceitos. "Desenvolvimento de personagens" vira "Bajulação". Alguma coisa está errada quando você vê mais crianças clamando serem esposas do astro do que um familiar falar algo sobre o infante. Os depoimentos dos familiares se restrigem as partes de Bieber em casa e sobre a infância do mesmo.
Essas partes em casa, aliás, surgem imediatamente após um número do show no MSG absolutamente lotado. Mostrar o astro "voltando às origens" logo após representar sua fama é muita cara de pau. E os produtores cafajestes ainda fazem a pedância de colocar o pai(que o abandonou) num show do filho logo no início do filme, ainda registrado por John Chu com lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos? Por que o choro? Emocionado pelo moleque ou revoltado por ter largado a mina de ouro que concebeu? O fato do pai sumir logo após a sua efêmera presença também é interessante debater. Os avós do menino ficam igualmente sumidos após seus depoimentos, assim como a mãe de Bieber. Os entrevistados viram Usher, Cee Lo Green, Miley Cyrus e Jaden Smith. Outra hiper-exposição: Sabemos que isso é mais um vídeo publicitário sobre a fama dele que um documentário, mas precisa martelar tanto na cara? Mass o exemplo definitivo dessa tendência didática é a passagem hilária de Bieber com uma violinista de rua. Ao vê-la justamente no local onde ele se apresentava antes da fama(que coincidência, né?), o menino diz pra ela nunca desistir de seus sonhos e lhe dá uns trocados. A mensagem do filme é clara(está no título, afinal), não precisa se reafirmar por passagens meramente pedantes.
O nosso grande protagonista, aliás, corre um risco perigosíssimo em certas passagens. Mesmo que interprete seu amor por suas fãs dizendo que as ama e chamando-as pro palco(a passagem da adolescente loira chorando de felicidade no palco enquanto ele acaricia seu rosto com segundas intenções é magnífica em sua mediocridade), o mesmo astro assina inúmeras revistas com autógrafos e vai as jogando no chão logo depois. Bieber diz que ama cada uma de suas fãs. Que carinho é esse com cada uma delas se ele está claramente pouco se lixando para aquilo? Mas o engraçado não é nem o ato em si. O engraçado é essa filmagem ter entrado pro documentário, o que poderia acabar com toda a simpatia do público ao protagonista. Não que seja de se reclamar que astros não deem tratamento carinhoso aos fãs(Tarantino bate em jornalistas e continua sendo gênio), mas se Bieber se propõe a dizer que as ama, não é bonito jogar revistas como se fossem meros papéis desimporantes. O sentimento do protagonista em relação áquilo tudo é posto em cheque então. O mesmo que tira fotos adoráveis com fãs apaixonadas é áquele garoto que nem deu um telefone de contato pra talentosa violinista de rua.
Pra pôr a cereja no bolo, o diretor John Chu só filma passagens em que a família canadense está todo reunida, todos felizes e celebrando. Os gritos de guerra antes do show são infantilóides e Ryan Good, um de seus agentes, parece um personagem ficcional cômico escrito pelo próprio Bieber. O arco dramático do filme, a lesão nas cordas vocais, é muito falsa e parece ter sido criada, tamanho o equívoco(e coincidência) de colocar essa parte justo antes do show no MSG. Essa tendência de parecer criar situações são fatais pro filme, visto que todos os presentes são quase caricaturas, arquétipos. Temos o animado, o cool, a mãezona, a segunda mãe, a assistente brigona e até o "segurança parceirão"... Tudo é puro brilho e amor, sem problemas e descomplicado pras fãs que pensam no seu mundo que pode ser lindo por fora, mas é vazio por dentro. Estereótipos ambulantes podem servir muito bem na ficção, como em Vencedor e O Poder e a Lei, mas em um documentário, periga tirar a identificação com o protagonista. Emocionante mesmo era Phillipe Petit, que realizava seus feitos e era preso logo após, no memorável O Equilibrista.
Mas se ideologicamente é extremamente falho, Never Say Never não consegue se sustentar nem como filme em si. Os números musicais são mesclados com a narrativa, que pára a todo momento pras faixas do show. Isso tira totalmente o mistério do "como aconteceu?" que o início da projeção indicava. E ainda que Chu crie ideias visuais razoáveis(gosto das mensagens suspensas no ar durante uma música), o resto é totalmente errado, com uma montagem fraca e que só serve pra quem se interessa pela música repetitiva e desinspirada do astro. E se a boa fotografia, que fica fantástica em HD, se salva, a iniciativa de fatiar o show do Madison ao longo da projeção destrói qualquer lógica visual e narrativa. É como se a luta de Muhammed Ali e George Foreman fosse mostrada em flashes ao longo de Quando Éramos Reis.
Never Say Never termina então com um gosto amargo na boca, sendo consideravelmente bobo. Ao ter problemas até mesmo em dizer o que pensa(por que mostrar a Estátua da Liberdade logo após ilustrar Bieber como prisioneiro de sua carreira se ele gosta tanto daquilo?), o filme é apenas uma palhaçada mercadológica(observe a passagem que Bieber apenas mexe o cabelo e brinca com os amigos idiotas em frente á câmera sem motivo algum) que não se salva como um todo, e que só não ganha a nota mínima possível graças aos esforços de um diretor minimamente interessado. Justin Bieber e seu documentário, cuidadosamente produzido por ele mesmo, Usher e Scooter Braun(seus agentes), é só arrogância(repare o quanto o astro se acha maioral ao acertar uma mera cesta de basquete) e cretinice inflada pelo revoltante 3D. Com direito a boné indo em direção á câmera.
Cuidado, fãs. Estão tentando tirar o dinheiro de vocês com um pentelho desgraçado que é metido a ponto de se filmar, sem motivo algum, de cueca. E secando o cabelo.
* 1 Estrela